A Era das Guerras Econômicas – origem, estrutura e razão no atual cenário global
Por Luiz Ferreira Jr.
Giuseppe Gagliano, importante intelectual italiano que trata do conceito de Guerra Econômica como modelo de análise geopolítico contemporâneo, compreende que desde a década de 1980 em seu final, já era perceptível para alguns estudiosos que o conflito econômico era central nos processos de disputa militar e sobredeterminante no que concerne aos serviços de segurança.
O ponto que se pode subtrair desta afirmação é que a inteligência econômica surge como ferramenta indispensável em um cenário global que pode ser claramente caracterizado por disputa multipolar de ordem econômica, melhor dito, por disputa de guerra econômica. Isso porque é um erro, segundo Giuseppe Gagliano conceber Inteligência Econômica fora de um cenário de Guerra econômica, tanto quanto considerar possível inteligência econômica sem soberania econômica e militar.
Por outro lado, a inteligência econômica deve ser considerada como ferramenta de ataque e defesa para consolidação ou conquista da soberania nacional.
A Escola de Guerra Econômica Francesa iniciada em meados de 1997, através da realização de estudos organizados por Henri Martre, concebe o atual cenário globalizado mundial como a Época ou Era da Guerra Econômica, muito antes do cenário atual de radicalização entre China e EUA que deixa isso patente. Ou seja, caracteriza o momento atual como de uma nova época em que a tensão entre um modelo que se vinha impondo de unipolaridade é tensionado com outros atores de grande força econômica e militar, de tal sorte que o atual cenário global deveria ser caracterizado estruturalmente como tempo de Guerra Econômica generalizada.
Nestes termos, uma visão como esta recebe um tratamento agressivo e repreensivo de adjetivações como a de conspiracionistas, sobretudo, dentro de um marco de institucionalidade internacional globalista. Mas, olhando por outro lado, é possível observar, como Henry Kissinger que na gestão “pacificada” ou supostamente “colaborativa” entre Estados, através de distintas instituições e organizações, o que se pode sublinhar é um pano de fundo permanente de potencial, se não de um efetivo, antagonismo entre Estados Nacionais.
Elementos históricos
Considerando a confrontação alemã que buscou por meio de guerras mundiais tomar controle da Europa, os EUA criou nos anos de 1945 uma série de instituições que visavam garantir o controle frente a novos cenários de disputas e conflitos de tal magnitude. Isto é, um sistema de governança global.
Saindo vencedor econômico e dotado de arma nuclear depois da guerra, os EUA posicionaram-se como garantidores da paz internacional, isto naturalmente com a colaboração de potências regionais: Reino Unido, França, União Soviética e China. Enquanto todos os demais Estados, neste contexto, deveriam seguir uma tendência de desmilitarização.
Desde a crise de 1929, Roosevelt considerou que a noção de autarquia (descentralização controlada) e o protecionismo, seguida da crise de 1929 levou a Guerra Mundial, de tal forma que advogou o posterior modelo de livre intercâmbio comercial como ferramenta de contenção desta mesma dinâmica de conflito, mas sempre como espelho do que era desenvolvido no território estadunidense. Sua intenção no caso foi redirecionar o enorme superávit americana para o exterior com fins de evitar uma nova grande crise econômica.
Neste contexto, os estadunidenses buscaram superar a centralidade da libra esterlina como moeda internacional e evitando-se um revanchismo com a mesma, colocando como principal país antagonista, o antigo aliado: União Soviética. Com este passou a articular-se um antagonismo, que preservava sua centralidade monetária, rivalizando por meio da ideologia, gerando por conseguinte uma guerra fria (uma guerra de contenção). Por isso, pareceu para muitos que a queda do Muro de Berlim fora um momento de libertação, sobretudo para os países europeus que foram o espaço de mediação conflitiva entre EUA e URSS, diante da ameaça do conflito atômico.
Mas o observador mais arguto pode compreender que a estrutura da guerra fria continha os seguintes elementos:
- complexo de armas nucleares como mecanismo de salvaguarda antagonizada entre potências, e que impedia um conflito direto;
- conflitos efetivos por guerras de procuração (proxy war); espionagem e desinformação.
Mas com a queda da URSS, os EUA voltaram a vislumbrar o cenário de 1945 em que a mundialização de seu modelo econômico e político deveria ser implementada a constituir-se uma ordem estabilizadora e de controle, conformando o ideário passado do Manifest Destiny.
EUA se fixava, neste momento, como o detentor da capacidade de gerar guerras em todo o mundo, enquanto Rússia já não podia mais, e China se ocupava de sua expansão produtiva. A noção de unipolaridade era aparentemente inevitável.
A noção de dualismo entre socialismo real e via capitalista era suplantada pela nova ordem global estadunidense. O “fim da história”, tese referencial deste momento elaborada por Francis Fukuyama, defendia a noção de império global americano como ápice do desenvolvimento humano, e portanto passível de ser incorporado pelas demais nações do mundo. Neste contexto, todos os países não necessitariam mais de Estados fortes (soberanos e com ferramentas tais para garantir suas próprias condições nacionais), mas sim gestores reduzidos de dinâmicas de livre comércio e de livre fluxo de capital cuja centralidade estaria instada na empresa multinacional e na entidade não governamental. Uma suposição de Pax perpetua.
Por isso os anos de 1980 e 1990 foram marcados pela crítica ostensiva do Estado como mecanismo que impedia:
- o desenvolvimento econômico;
- a globalização financeira (e o mito dos países subalternos em esperar eternamente pelo investimento estrangeiro como saída única para seu desenvolvimento interno);
- a transnacionalização empresarial;
- a intensificação das trocas internacionais.
A União Européia surgiu neste cenário como solução “competente” em que a moeda das nações européias foi substituída por uma moeda única gestionada por um sistema de banca internacional privada.
No centro deste modelo, um único interesse nacional se afirmava através de discursos ideológicos e da imposição de modelos econômicos e políticos propagados, o interesse nacional estadunidense traduzido como discurso de emancipação dos demais.
Mas “faltou combinar com os russos”. Ou como se propôs, na crítica de Samuel Huntington, não se pode evitar o Conflito ou o confronto de civilizações, que diante da dinâmica dos fatos superou a noção de fim da história. Algumas nações com passado histórico milenar e com capacidades de reação soberana não aceitaram o “pacto” imposto de reivindicação do ocidental (estadunidense) como universal, ou melhor dito, rechaçou o discurso cosmopolitismo politicamente correto (ou seja, moralmente impositivo).
Com uma moral programada e uma resistência imposta, a extrema direita americana produziu posteriormente uma visão de imposição do Manifest Destiny através da imposição de hard power. Ou seja, a visão da agressão se justificava frente a um “bem único universal”. Criou-se como estratégia a guerra (cultural e militar) contra o terror, o alvo inicial: Iraque. O objetivo era impor um centro de democracia à imagem e semelhança estadunidense e gerar um novo pólo de controle regional no sudoeste asiático. A idéia seria expandir o modelo, por isso, por outro lado buscou-se pressionar Irã por meio da invasão no Afeganistão, e obrigar a Índia a aliar-se através do isolamento e estimulação de conflito constante que se patrocinou em relação ao Paquistão.
Mas a contínua gestão conflitiva na região do sudoeste asiático assistiu à eclosão da crise de 2007 que levou no ocidente, sobretudo em Estados Unidos, ao resgate de instituições financeiras por meio do estado nacional e do uso de recursos do erário público. De imediato, dada a fragilidade instalada surgiu como reação um natural olhar por parte dessas forças econômicas estruturadas em relação a mercados ainda não tão abertos a sua influência, isso naturalmente através de uma intensificação concorrencial. Por isso daí em diante vislumbrou-se claramente um cenário intensificado de guerra econômica alastrando-se globalmente.
Esse desequilíbrio em um sistema financeiro imposto, depois da crise instaurada, e de uma consequente crise de demanda, sobretudo na Europa, gerou um processo de conflito de núcleos econômicos através de estados garantidores de conflitos econômicos com objetivo de gerar a manutenção desses grupos econômicos globais que passaram a investir força contra outros grupos econômicos e nações a qualquer custo, assim os antigos marcos legais e de política externa passaram a ser desconsiderados de imediato.
Por isso podemos entender os efeitos que se impuseram frente ao Brasil depois de sua postura um pouco diferente, menos aberta, à influência extrativa dos atores hegemônicos do capital financeiro global no período de 2007 e anos seguintes.
Sintomas de Guerra Econômica
Esses processos são similares aos que se impuseram a determinadas nações européias mais frágeis em sua soberania econômica e política. Processos que seguem intensificando-se porque assim segue a tendência de guerra econômica em todo mundo: estados com maior soberania defendem suas formas de vida (nacionalismo de inclusão), ou submetem-se a influência dos processos decorrentes da crise global em andamento: diminuição da inovação, disputa por matéria prima, deslocalização, explosão da iniquidade, aceleração da financeirização global, migração massiva.
Por isso é compreensível que instrumentos de guerra institucional que foram tratados pelos meios de comunicação nacionais como guerra contra a corrupção (e que se quer transformar em permanente guerra contra o terror e crime organizado) geram sintomas que se combinam com a estratégia agressiva de oligopólios transnacionais associados a grandes potências estrangeiras em atuação contra a soberania econômica, política e de modos de vida e sobrevivência (ontológica) em países como o Brasil.
Resultado disso, no Brasil, sintomas de divisão social permanente (gestionados muitas vezes), extração de riquezas (estatais e de grupos empresariais regionais), fim de direitos (ataque às classes médias), destruição de mecanismos de poupança (no caso brasileiro a desestimulação de investimentos conservadores, de manutenção de perdas frente a inflação) e a nova moda do investimento na bolsa de valores. Enquanto a deslocalização e uberização se intensifica como perspectiva moral, de referência de vida e meio de sobrevivência, nossa sub região continental encontra-se em um cenário de permanente de conflitos e com ampliação de fatores de fragilidade de agressões institucionais externas ou de guerra entre facções do estado, fragilidades informacionais, desinformacionais e de lawfare dirigida a figuras políticas, grupos ou mesmo a setor econômicos ou nacionais.
Information Dominance versus segurança ontológica nacional
Um efeito somado a isso, a verificação da adaptação de nosso ordenamento jurídico como extensão apoiadora da estabilização de nações estrangeiras, em desfavor da vida de brasileiros e latinoamericanos. Ou seja, a ampliação da transferência da riqueza nacional e de recursos com adaptação de instrumentos de controle e manutenção desses mecanismos de domínio econômico através da mudança do modelo normativo.
Este modelo normativo possui características internas duais: (1) no âmbito civil/comercial busca paralelismo de apoio à extração e manutenção de mecanismos negociais já que os modelos normativos da ordem econômica normalmente consistem em modos operativos das classes de hegemonia econômica. Assim, adapta-se o sistema legal aos modos de operação e lucratividade das empresas a seus países de origem ou de base de negócios que ampliam sua dominância nos países que perdem soberania.
Enquanto também, como no caso brasileiro, considerando o cenário de Guerra econômica global, (2) o governo atual, do país subordinado, gestiona (por extensão do agente de ataque econômico) ações de ataque interno a soberania, vez que se comporta como autarquia de países e empresas estrangeiras. Assim incorporam a implementação de mecanismos de gestão do caos interno por um lado e de controle de setores social de potencial insurreição (riot control) ao mesmo tempo. Neste cenário dado o colaboracionismo dos governos vigentes, o estado capturado no Brasil mais do que um fenômeno consequente de um estado oco, ou de diminuição progressiva de sua máquina (como se deu no México), gera um estado paralelo normativo e de controle social permanente e busca gestionar a precarização social e institucional progressiva. O risco, a ampliação absoluta de um estado mafioso com práticas de terrorismo contra sua própria população. Uma captura programada do estado.
Os fenômenos de esvaziamento e captura do estado sempre levam a um processo de geração de um estado paralelo, pois a exceção tem que ser garantida para que os setores de classe e burocráticos que gestionam o processo possam aumentar ou manter seus níveis de extração.
O estado de controle e terrorismo (por meios legais e ilegais) é parte integrante do modelo em que o estado é corroído por um lado pela plutocracia e por outro pelo crime organizado. Tais elementos se reforçam mutuamente em uma relação simbiótica enquanto a maior parte da população (incluindo setores de classe média) assista a um aumento da extração de capital nacional a suas expensas.
No caso brasileiro isto vem condicionado a um numeroso conjunto de Projetos de Lei desarquivados e propostos com fins de fortalecer processos de divisão social, militarização de setores de segurança e criação de um sistema interno de inteligência dentro do aparato do estado capaz de gerar uma manutenção de políticas de extração de riqueza para o exterior por meio da ameaça e divisão social constante.
Por outro lado, a relação conflitiva entre países como EUA e China possui uma contradição interna. Como se trava uma disputa entre setores econômicos globais situados geograficamente nestes países de origem, mas também fincados originariamente em esquemas legais (de normatização jurídica e organizacional) de determinada nação ou país, estes atores globais agem de forma atentatória um contra o outro, mas ao mesmo tempo possuem muitos pontos de interesses comuns que geram co-dependência já que agem dentro de um cenário de desenvolvimento econômico-tecnológico mundializado.
Assim, países como China e Rússia buscam compor mecanismos e modelos econômicos diversos e fora do eixo de controle e gravitação de determinantes políticos-econômicos-militares dos EUA. Atuam com organizações internacionais distintas, com modelos de articulação e acordos internacionais diferentes. Buscam formas de gestão de negócios caracterizados por relações distintas entre a máquina estatal e os players econômicos de seus países. E claro, na medida do possível buscam evitar o máximo possível serem determinados por mecanismos tecnológicos de adversários.
Esse complexo de condicionamentos nos permite entender distintas dinâmicas em desenvolvimento atual no mundo.
Mas neste cenário de marcos regulatórios para gestão e ampliação de negócios e dominância política, os EUA possuem uma vantagem, a rede mundial de internet, que por suas bases materiais de distribuição de sinais, como também pelas plataformas de maior popularidade no mundo (software), estimulam a naturalização de seu modelo “universal” de cultura e comportamento. Por isso é que se trava também, atualmente, uma guerra de informação e desinformação neste âmbito, caso que claramente se percebe no contexto do recente isolamento temporário de internet do Irã, ou das tentativas de gerar sítios-web e softwares próprios, nacionais e regionais, por parte de China e Rússia. Mas de modo generalista o que se pode caracterizar é uma dominância de software da parte dos Estados Unidos, enquanto de hardware a dominância produtiva finca-se no oriente.
Estes mecanismos permitem introjetar aberturas capazes de gerar guerra eletrônica, isto é, formas de ataque e intervenção em setores de produção baseados em tecnologia a gerar fragilidades e prejuízos econômicos e até mesmo prejuízos militares. O uso “inteligente” dessas plataformas de comunicação em rede permite o desenvolvimento de information warfare, ou como denominam os franceses, guerra cognitiva. Esta está associada a mecanismos de estudos e identificação de padrões comportamentais associados a duas formas de agendamento midiático.
(1) Por um lado ações de desinformação, gerando constante desequilíbrio e perda de referência para soluções e avaliações baseadas em experiências e acumulações próprias da parte de organizações e grupos sociais, mas sempre associadas a (2) mecanismos de guerra de informação ou de propaganda, que neste segundo eixo buscam estruturar combinados a desorganização de referências anteriores a propagação de novos padrões de comportamento e decisão. Trava-se uma guerra de rede – netware – com vistas a uma information dominance. O reverso disso, desenvolvimento de estratégias de inteligência, institucionais e culturais que mantenham preservados modos de reprodução da vida vinculadas à cultura e recursos próprios, ou seja estratégias de segurança ontológica.
A segurança ontológica vincula-se a dimensão de manipulação que informação e desinformação combinadas podem gerar. Em um espectro amplo (controle de espectro total) estas atividades combinadas geram sujeitos subordinados a formas de afirmação próprias de verdade incompletas ou inverdades, mas muito mais preocupados com sua própria versão individual ou de pequeno grupo isolado do que no desenvolvimento com atores e opiniões distintas que possam gerar colaborações e soluções conjuntas. Isso ocorre porque a combinação entre operações de desinformação e informação aplicadas geram uma constante tensão entre setores sociais, com conflitos gestionados por atores dominantes em diferentes nichos. Assim a polarização interna em sociedades e sua estagnação, inclusive no que concerne a capacidade criativa e de tolerância combinada entre diferentes, gera um processo perigoso para o desenvolvimento social de grupos, nações e países. Este cenário de fragmentação social interna se tem observado atualmente no Brasil, Chile, Bolívia, e inclusive nos Estados Unidos.
O papel das ONGs
Em condições de deslocamento de funções autárquicas da ação estatal, com esvaziamento da máquina pública em muitos deles, as ONGs acabam desenvolvendo-se como atores associados fundamentais para gerar a política que o Estado deixa de exercer diretamente. Em países de grande capacidade de inteligência econômica, estes atores descentralizados cumprem além de funções institucionais de atividade executiva de políticas setoriais, também o rol de difusão de valores ideológicos e nacionais próprios do país de origem, como também exercem um papel de influência de propaganda. Em muitos casos inclusive como extensão de interesses de política externa. Podem em alguns casos exercer outras atividades de guerra econômica como desinformação ou até mesmo de inteligência. Exemplos deste tipo de organização no caso americano é o da National Endowment for Democracy, ou ainda, do Instituto Confúcio no caso da China.
O objetivo final estabilizante
Cabe entender que diante de um cenário multipolar que reorganiza conflitos em diversos setores, cada vez mais evidencia-se a máxima de Clausewitz que mais importante que destruir o inimigo é fundamental subordiná-lo a sua vontade. Por isso, a instauração e progressividade deste cenário conflitivo nos faz compreender que estas ferramentas de guerra não convencionais devem continuar a serem ativadas. E cada vez mais nos faz importante compreender estas dinâmicas em nossa realidade nacional e gerar soluções que nos permita manter coesão/unidade nacional, com tolerância ao diferente, evitando o uso da máquina e aparelhos ideológicos internos a serviço de interesses externos. E sobretudo, que sejamos capazes de construir um cenário de reconquista de nossa soberania e bem estar de nosso povo.
Luiz Ferreira Júnior é advogado, Mestre em Direitos Humanos – Universidade de San Martín (Argentina) e Mestre em Comunicação Midiática – UNESP.











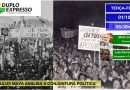
Facebook Comments